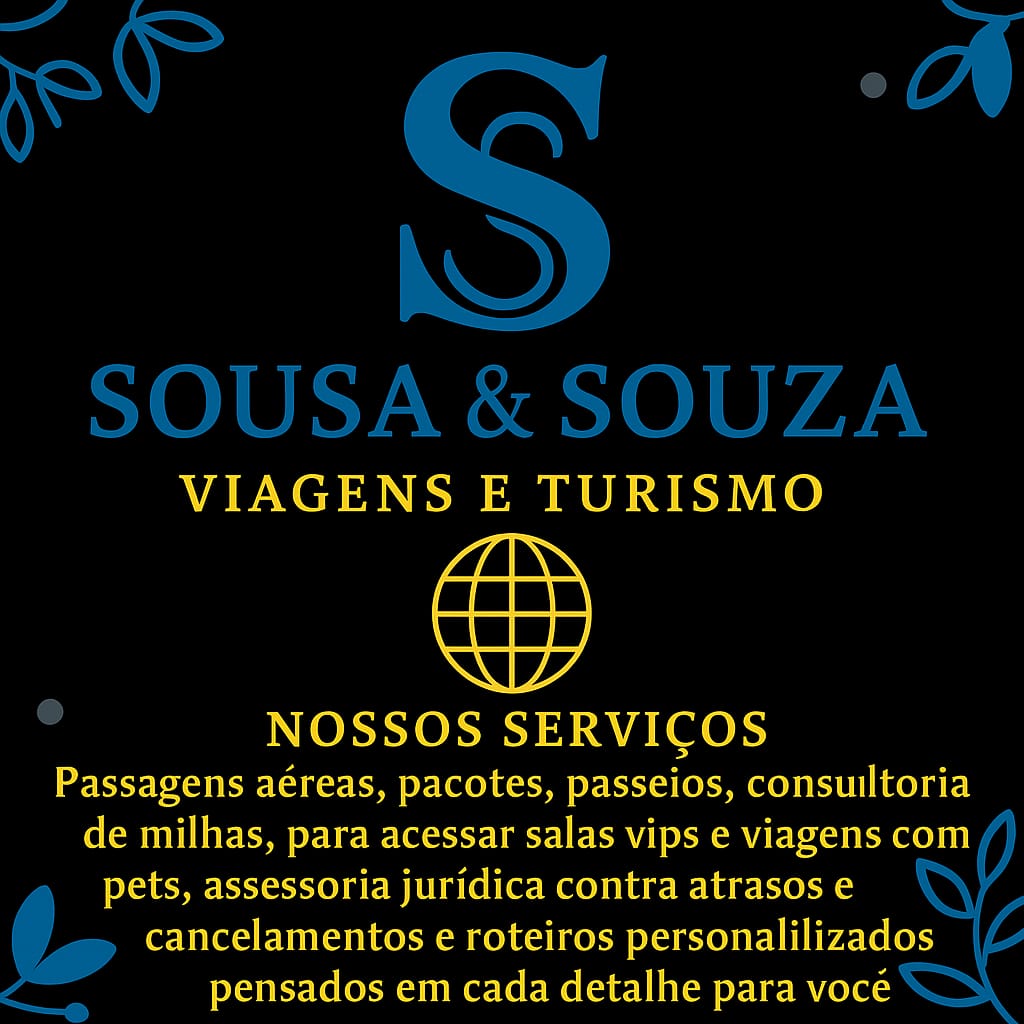A imprensa mainstream nacional continua presa a uma lógica colonizada que impede avanços frente aos desafios do século XXI.
Por Reynaldo Aragon
O jornalismo brasileiro vive acorrentado a modelos importados do Norte Global, incapaz de assumir sua função estratégica na defesa da soberania informacional. Este artigo é um alerta: ou rompemos os grilhões do colonialismo jornalístico, ou permaneceremos irrelevantes na guerra híbrida que molda o presente e o futuro.
O grilhão invisível
O jornalismo brasileiro vive acorrentado a um grilhão invisível. Não se trata de um problema de um veículo específico ou de uma linha editorial em particular, mas de uma lógica sistêmica que atravessa todo o campo. Essa lógica é a do colonialismo informacional, que mantém nossa imprensa presa a modelos ultrapassados, a referenciais importados e a uma prática que não acompanhou a transformação radical da circulação da informação no século XXI.
A função social do jornalismo, que deveria ser a de produzir leitura crítica da realidade, de proteger a democracia e de fortalecer a soberania informacional, foi reduzida a uma corrida pela velocidade e pela reprodução de narrativas externas. Em vez de investigar, revelar e antecipar, a imprensa muitas vezes apenas repercute, traduz e adapta conteúdos produzidos em centros hegemônicos do Norte Global.
Esse colonialismo não é figura de linguagem: ele se manifesta no ensino universitário, nas rotinas de redação, na seleção de fontes e na forma como o Brasil é narrado dentro e fora de suas fronteiras. O resultado é um jornalismo previsível, que raramente oferece profundidade analítica e que permanece alheio às disputas estratégicas do nosso tempo — como a guerra híbrida, as operações psicológicas e a desinformação em escala industrial.
Este artigo não busca desmerecer o esforço de jornalistas sérios, que diariamente trabalham em condições adversas. Trata-se, antes, de um alerta: sem romper com esse grilhão colonial, o jornalismo brasileiro permanecerá irrelevante diante da batalha informacional que molda o presente e decidirá o futuro.
As raízes do colonialismo jornalístico
As raízes desse colonialismo são profundas e estruturais. A começar pela formação acadêmica, que molda gerações de jornalistas a partir de bibliografias estrangeiras. Autores norte-americanos e europeus são ensinados como se fossem universais, enquanto a produção intelectual brasileira e latino-americana é marginalizada. Essa hierarquia epistemológica naturaliza a ideia de que o saber válido é sempre o que vem de fora, e com isso bloqueia a construção de metodologias próprias para interpretar nossa realidade.
Nas redações, a dependência se mostra de forma ainda mais evidente. A cobertura internacional, em particular, é quase sempre mediada por agências estrangeiras como Reuters, Associated Press, AFP ou Bloomberg. Os acontecimentos mundiais chegam ao público brasileiro já filtrados por lentes externas, interessadas em reforçar visões geopolíticas que não necessariamente coincidem com os interesses do país. Essa prática perpetua uma leitura colonizada do mundo e alimenta a condição periférica do Brasil no sistema informacional global.
Há também um preconceito histórico contra iniciativas locais de inovação. Ferramentas como análise de dados, monitoramento de redes de desinformação, investigações independentes ou uso de técnicas de OSINT (Open Source Intelligence) são vistas como algo “alternativo” ou “experimental”, em vez de serem incorporadas como rotina básica da apuração. Essa resistência não é apenas fruto de desconhecimento técnico: ela é consequência de uma mentalidade colonizada, que confere legitimidade automática ao que vem do Norte e desconfiança crônica ao que nasce aqui.
Assim, o jornalismo brasileiro se constituiu sobre um terreno de dependência. Reproduz narrativas externas, despreza suas próprias potencialidades e raramente se reconhece como parte de uma disputa global pela informação. Essa herança colonial molda não apenas a forma como produzimos notícias, mas também a forma como o país se enxerga — e se resigna — no tabuleiro mundial.
O atraso estrutural
O jornalismo brasileiro permanece ancorado em práticas do século XX. O paradigma dominante continua sendo o hard news, com foco quase exclusivo na velocidade da publicação e na repetição de fatos imediatos. Essa lógica, que já foi adequada em outro tempo, hoje se revela insuficiente diante de uma realidade marcada pela circulação massiva de informações, pela desinformação em escala industrial e pela centralidade estratégica da comunicação nas disputas políticas, econômicas e geopolíticas.
Nesse modelo ultrapassado, pouco espaço sobra para o uso sistemático de técnicas modernas. Ferramentas como o jornalismo de dados, o mapeamento de redes digitais, a análise de fluxos financeiros, a leitura geopolítica a partir de fontes abertas (OSINT) e até mesmo o cruzamento de bases públicas ainda aparecem como exceções — em projetos especiais ou reportagens pontuais — em vez de serem parte da rotina diária da apuração. Enquanto outros países já naturalizaram o uso dessas práticas, o Brasil permanece preso a uma forma reativa e limitada de cobrir a realidade.
É essencial deixar claro: o uso de técnicas de análise avançada não tem como objetivo “adivinhar” o futuro. O jornalismo estratégico não é exercício de futurologia, mas de metodologia rigorosa. Ao reunir dados, mapear tendências, analisar conexões e cruzar evidências, o que se produz não são previsões mágicas, mas cenários possíveis, fundamentados em informação verificável. O valor disso é imenso: permite que a sociedade, as instituições e os estrategistas políticos ou econômicos possam se preparar para o que pode vir, em vez de serem sempre surpreendidos pelos acontecimentos.
Essa diferença é crucial. O jornalismo tradicional, limitado ao factual imediato, registra o que já aconteceu. O jornalismo estratégico, ao contrário, fornece ferramentas de antecipação racional, que ajudam a compreender a direção dos processos históricos e a planejar respostas. É exatamente esse salto metodológico que falta no Brasil: sair da repetição reativa e avançar para a produção de conhecimento estratégico.
O atraso estrutural, portanto, não é apenas técnico, mas conceitual. Falta compreender que, em tempos de guerra híbrida e disputas informacionais, não basta relatar os fatos: é preciso mapear as forças que os produzem e antever os cenários em que eles se desdobram. A incapacidade de incorporar essa dimensão estratégica mantém o jornalismo brasileiro como espectador de sua própria história, em vez de agente ativo na defesa da soberania informacional.
Colonialismo informacional e soberania
O atraso estrutural do jornalismo brasileiro não pode ser visto apenas como um problema de método ou de técnica: ele é também uma questão de soberania. Uma imprensa que depende de narrativas externas, que repete enquadramentos produzidos em centros hegemônicos e que não desenvolve metodologias próprias para interpretar a realidade, acaba por reforçar a condição periférica do país no sistema global.
Pela lente do materialismo histórico-dialético, isso se torna ainda mais evidente. A dependência informacional é parte da engrenagem que sustenta a dependência econômica e política. Quando nossas redações utilizam majoritariamente fontes estrangeiras para compreender o mundo, estão, na prática, legitimando o olhar do outro como referência universal. Esse movimento não é neutro: ele transfere ao Norte Global o poder de definir os significados dos fatos, enquanto o Brasil se limita a ecoar interpretações que não foram feitas para servir aos seus interesses.
Esse colonialismo informacional tem efeitos concretos. Ele molda a opinião pública a partir de categorias que não correspondem à realidade nacional. Ele dificulta que a sociedade compreenda sua posição no tabuleiro geopolítico, porque o espelho usado para olhar o mundo é sempre distorcido. Ele enfraquece, por consequência, a capacidade do país de formular políticas autônomas em áreas centrais como economia, defesa, meio ambiente e tecnologia.
Mais grave ainda: essa dependência abre espaço para que operações de guerra híbrida encontrem terreno fértil. Uma imprensa que não domina as ferramentas de análise estratégica e que não tem consciência de sua função soberana torna-se vulnerável a narrativas manipuladas, campanhas coordenadas de desinformação e jogos de poder travados em escala global. O jornalismo colonizado não apenas falha em proteger a democracia: ele se converte, muitas vezes sem perceber, em canal de amplificação daquilo que ameaça a própria democracia.
A disputa pela soberania informacional é, portanto, inseparável da disputa pela soberania nacional. Um país que não controla suas narrativas, que não interpreta a si mesmo e que não projeta cenários a partir de suas próprias ferramentas, é um país condenado a ser conduzido pelas mãos dos outros. O jornalismo, nesse sentido, não é apenas profissão: é trincheira. E sem romper o colonialismo que o paralisa, continuará a ser uma trincheira abandonada, incapaz de proteger a sociedade das batalhas invisíveis do nosso tempo.
O que é jornalismo estratégico
Romper o grilhão colonial não significa apenas denunciar a dependência ou apontar falhas: significa construir uma prática nova, à altura dos desafios do século XXI. É nesse ponto que entra a noção de jornalismo estratégico. Diferente do modelo tradicional, limitado ao factual e à velocidade, o jornalismo estratégico se organiza como uma prática de análise profunda, antecipatória e orientada por metodologias robustas.
Trata-se de um jornalismo que vai além da superfície da notícia. Ele cruza dados, investiga redes de poder, mapeia fluxos de desinformação, rastreia conexões financeiras, utiliza OSINT (Open Source Intelligence) de forma sistemática e lê cenários geopolíticos a partir da perspectiva nacional. Essa interdisciplinaridade é fundamental: exige diálogo entre comunicação, ciência de dados, geopolítica, psicologia social e até mesmo ciências da complexidade.
É crucial insistir: jornalismo estratégico não é futurologia. Seu objetivo não é adivinhar o futuro, mas oferecer à sociedade cenários possíveis, construídos a partir de evidências verificáveis. A força dessa prática está em sua capacidade de antecipar racionalmente tendências e de preparar atores sociais, políticos e institucionais para lidar com diferentes desdobramentos. Em vez de reagir sempre tardiamente aos fatos consumados, o jornalismo estratégico permite agir de forma preventiva, calculada e consciente.
Essa diferença muda tudo. O jornalismo convencional registra o que já aconteceu; o estratégico projeta o que pode acontecer e explica por que isso importa. Ele não substitui a notícia, mas a complementa, dando-lhe densidade e relevância histórica. É uma prática que compreende a informação como um campo de disputa, e que assume o papel de trincheira ativa na defesa da soberania cognitiva e informacional do país.
Adotar o jornalismo estratégico não é luxo nem capricho acadêmico: é condição de sobrevivência em um tempo em que a informação se tornou arma central da política e da economia global. Sem ele, o Brasil permanecerá condenado a ser espectador da própria história. Com ele, poderá finalmente disputar narrativas em pé de igualdade e proteger sua democracia contra os ataques invisíveis da guerra híbrida.
O exemplo do Código Aberto
Se a crítica é dura, é preciso também mostrar que existem tentativas de romper com essa lógica colonizada. O Código Aberto nasce nesse espírito: não como modelo acabado ou pretensão de resposta definitiva, mas como um espaço em construção, que busca praticar um jornalismo estratégico voltado à soberania informacional.
A proposta do projeto é simples e radical ao mesmo tempo: entender o jornalismo como ferramenta de análise estratégica, capaz de oferecer à sociedade não apenas a notícia, mas também a interpretação de seus desdobramentos e os cenários possíveis que ela abre. O Código Aberto procura enfrentar a “xorrenteza” — essa corrente colonizada e automática da imprensa nacional — ao praticar uma apuração mais profunda, interdisciplinar e crítica.
O exercício de jornalismo estratégico que se propõe ali não tem como objetivo competir com os grandes veículos ou com o noticiário diário. Pelo contrário: parte da humildade de reconhecer que esse espaço ainda é limitado, mas também da convicção de que mesmo iniciativas menores podem apontar caminhos para uma ruptura necessária. Ao investir em cruzamento de dados, leitura de redes de desinformação e análise geopolítica sob a ótica da soberania brasileira, o Código Aberto mostra que é possível construir alternativas ao colonialismo jornalístico.
Esse esforço não resolve sozinho o problema estrutural da imprensa nacional, mas cumpre um papel essencial: demonstrar, com prática concreta, que resistir é possível. Mostra também que a transformação não depende apenas de grandes investimentos ou de modelos importados, mas de um reposicionamento epistemológico e político: pensar o jornalismo como trincheira estratégica de soberania informacional.
O chamado à ruptura
Reconhecer o colonialismo jornalístico é apenas o primeiro passo. O desafio real está em romper com ele. Essa ruptura não significa rejeitar o conhecimento estrangeiro ou isolar o Brasil das referências internacionais. Significa, sim, abandonar a submissão acrítica a modelos importados e começar a construir metodologias próprias, capazes de dialogar com o mundo sem abrir mão da soberania nacional.
É preciso compreender que jornalismo não é apenas profissão, mas campo estratégico de poder. Em tempos de guerra híbrida, operações psicológicas e desinformação em escala industrial, a imprensa não pode se limitar ao relato apressado dos fatos. Ela precisa assumir seu papel como guardiã da soberania informacional, oferecendo à sociedade não só notícias, mas análises, cenários e alertas.
Essa ruptura exige coragem intelectual e política. Exige repensar a formação acadêmica, para que os futuros jornalistas sejam capazes de combinar rigor técnico com visão estratégica. Exige reorganizar rotinas de redação, incorporando o uso cotidiano de dados, técnicas de OSINT e análise multidisciplinar. Exige, sobretudo, vencer o preconceito contra as próprias capacidades nacionais e contra a ideia de que o Brasil pode produzir jornalismo de ponta, inovador e estratégico.
Sem esse movimento, continuaremos reféns de narrativas externas, reagindo a acontecimentos em vez de nos preparar para eles. A ruptura não é opção: é condição de sobrevivência. O jornalismo brasileiro precisa deixar de ser correia de transmissão do Norte Global e se transformar em trincheira ativa na defesa da democracia e da soberania cognitiva do país.
Conclusão: ou soberania ou irrelevância
O jornalismo brasileiro está diante de uma encruzilhada. Ou rompe com o colonialismo que o mantém preso a modelos ultrapassados, ou continuará a ser irrelevante na disputa que definirá o século XXI. Essa disputa não é apenas pelo controle de narrativas: é pela própria soberania nacional.
A guerra híbrida e informacional não perdoa países que terceirizam sua leitura de mundo. Uma imprensa que repete narrativas externas, que não desenvolve metodologias próprias e que não projeta cenários a partir de seus interesses nacionais, torna-se cúmplice involuntária da manutenção da dependência. Não se trata de falha acidental: é um risco existencial.
Romper com esse ciclo exige coragem e visão histórica. O jornalismo precisa assumir-se como trincheira estratégica, capaz de proteger a democracia e preparar a sociedade para os desafios que se anunciam. Isso não significa rejeitar o conhecimento estrangeiro, mas apropriar-se dele de forma crítica, dialogar sem se submeter, aprender sem abdicar da própria autonomia.
Mas esse chamado não se dirige apenas à imprensa. É também à sociedade, que precisa compreender que sem jornalismo estratégico não há soberania cognitiva. É às universidades, que devem formar profissionais capazes de pensar o Brasil em sua complexidade, e não apenas reproduzir manuais alheios. É ao Estado, que deve reconhecer a centralidade da informação como campo de defesa nacional.
No fim, a escolha é simples: ou construímos um jornalismo autônomo, estratégico e soberano, ou permaneceremos condenados à irrelevância, assistindo à história ser escrita pelos outros. A hora da ruptura é agora. O grilhão colonial pode ser quebrado. O futuro do Brasil depende disso.
Artigo publicado originalmente em <código aberto>