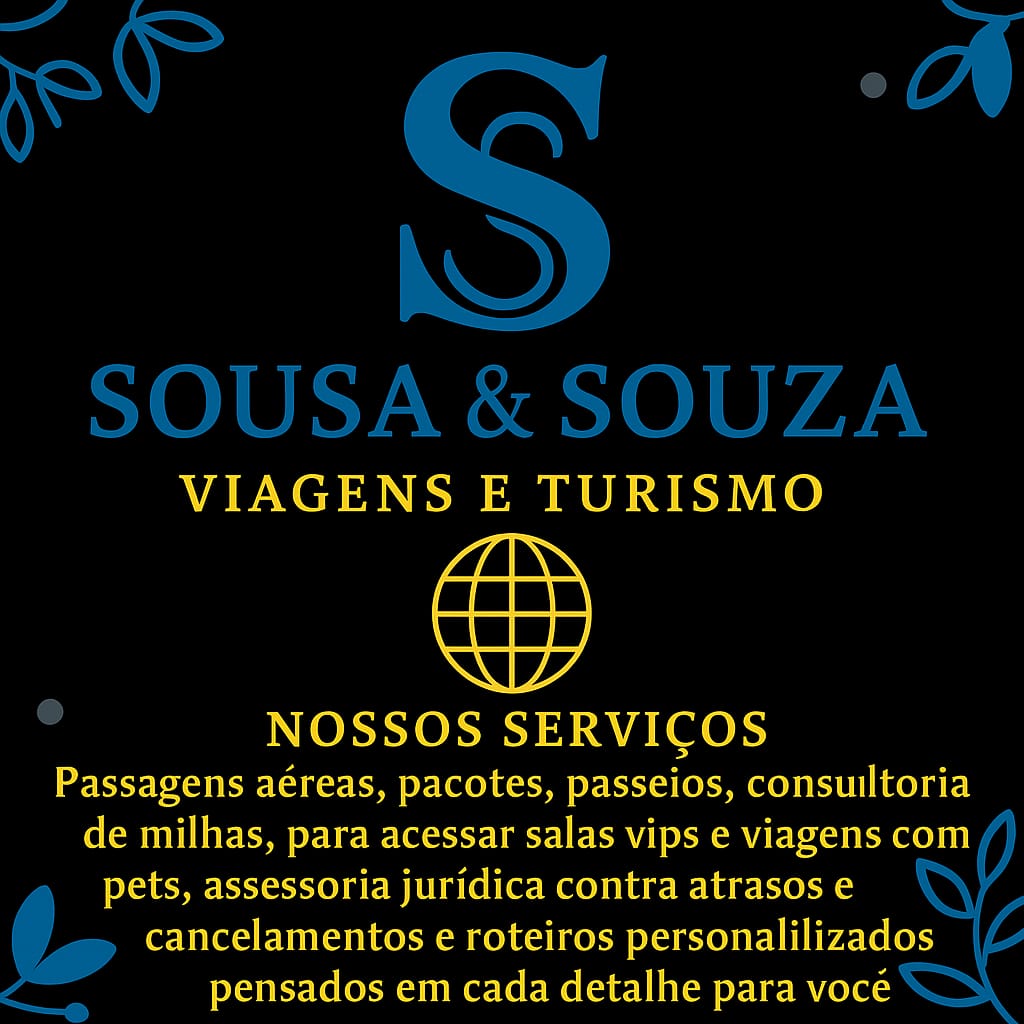A falha global da AWS expôs o quão frágil é a infraestrutura digital do mundo — e como a soberania informacional de países como o Brasil depende hoje de servidores estrangeiros.
Por Reynaldo Aragon
O apagão da Amazon Web Services nesta segunda-feira (20) derrubou parte da internet mundial e acendeu um alerta vermelho sobre o futuro da soberania digital. Mais do que uma falha técnica, o episódio revela o poder concentrado nas mãos de poucas corporações capazes de paralisar economias inteiras — e evidência a urgência de construir infraestruturas tecnológicas soberanas, descentralizadas e multipolares.
A Nuvem Que Caiu
A segunda-feira, 20 de outubro de 2025, ficará marcada como o dia em que o mundo redescobriu a materialidade daquilo que chamamos de “nuvem”. Por trás da metáfora etérea que sugere leveza e ubiquidade, a infraestrutura que sustenta a vida digital global tem peso, gravidade e fronteiras bem definidas. Foi justamente essa materialidade que colapsou quando a Amazon Web Services (AWS), pilar central da economia digital contemporânea, sofreu uma falha em larga escala que paralisou parte significativa da internet mundial. O problema teve origem na região US-EAST-1, localizada na Virgínia, nos Estados Unidos — o coração nervoso da computação em nuvem global, onde estão instalados alguns dos data centers mais críticos do planeta.
Em poucas horas, a falha se transformou num apagão digital de alcance planetário. Aplicativos como Fortnite, Snapchat, Signal, Prime Video e Alexa ficaram fora do ar; sistemas bancários e plataformas de pagamento sofreram intermitências; e serviços públicos e privados que dependem da AWS, direta ou indiretamente, pararam de funcionar. No Brasil, os reflexos foram imediatos: iFood, Hotmart, Mercado Livre e outros serviços baseados em nuvem relataram instabilidade. Até mesmo sistemas de telemetria, logística e bancos de dados corporativos registraram lentidão e falhas de autenticação.
A própria Amazon reconheceu o incidente, descrevendo “aumento nas taxas de erro e latência” e mobilizando equipes de emergência para conter o colapso. Foram quase oito horas de instabilidade global, em que bilhões de requisições por segundo simplesmente não encontravam resposta. Mesmo após a mitigação, análises independentes apontaram que parte das aplicações continuou apresentando oscilações residuais durante todo o dia, revelando o tamanho do estrago e o grau de interdependência entre os sistemas que compõem o ecossistema digital.
O episódio escancarou um paradoxo: a rede mundial, apresentada como símbolo máximo de descentralização e liberdade, repousa sobre uma infraestrutura altamente centralizada, controlada por um punhado de corporações sediadas majoritariamente nos Estados Unidos. Bastou uma falha localizada em uma única região da AWS para comprometer o funcionamento de serviços em dezenas de países, afetando transações financeiras, comunicações pessoais, entregas de alimentos, transmissões ao vivo e até plataformas governamentais.
O colapso da “nuvem” mostrou, com contundência, que a ideia de uma internet livre, fluida e autônoma é em grande medida uma ilusão. A dependência de poucos provedores privados transformou o espaço digital em uma zona de vulnerabilidade sistêmica, onde uma falha técnica se converte imediatamente em uma crise geopolítica silenciosa. Quando a nuvem cai, o que desaba não são apenas sistemas computacionais — são as ilusões de soberania, autonomia e segurança digital de todo um mundo que delegou sua infraestrutura vital a empresas privadas transnacionais.
O Mundo Refém da Amazon
A crise desta segunda-feira expôs com clareza o que muitos especialistas vinham alertando há anos: a Amazon não é apenas uma empresa de tecnologia, mas uma das colunas estruturais do poder digital contemporâneo. A AWS, braço de computação em nuvem da corporação, tornou-se uma infraestrutura essencial da globalização, tão estratégica quanto os cabos submarinos, os portos marítimos ou as reservas de petróleo que definiram as disputas do século XX. Mais do que hospedar dados, ela hospeda o funcionamento cotidiano da civilização conectada — dos fluxos financeiros às relações pessoais mediadas por aplicativos, passando pela logística, pelo entretenimento e pelas comunicações governamentais.
Em sua expansão silenciosa, a Amazon construiu uma teia de dependência quase invisível. Milhões de empresas, órgãos públicos e startups dependem de seus servidores para operar, muitas vezes sem sequer saber disso. O usuário que abre um aplicativo de banco ou pede comida por um app não imagina que, por trás daquela interface colorida, há uma cadeia complexa de servidores, APIs e bancos de dados hospedados nos data centers da AWS. Quando essa estrutura falha, a vida digital moderna revela-se uma ficção de autonomia — um sistema global de alta interconexão sustentado por um número incrivelmente pequeno de nós centrais.
Essa hiperconcentração de poder não é casual. Ela é fruto de uma lógica histórica de acumulação e centralização típica do capitalismo de plataforma. A Amazon — junto a Google, Microsoft e Meta — tornou-se um ator geopolítico com poder equivalente ao de Estados-nação, mas sem o controle democrático que os Estados ainda devem exercer. Sua capacidade de decidir o destino de fluxos de dados, de transações e até de discursos lhe confere um poder difuso, mas imenso, operando sob a aparência de neutralidade técnica.
O apagão global desta segunda-feira funcionou como um raio que iluminou, por alguns segundos, a geopolítica oculta da nuvem. Mostrou que o poder não está mais apenas nos governos, mas nas infraestruturas. Mostrou que, em 2025, o centro do poder mundial não é um palácio, mas um data center. E mostrou, sobretudo, que a soberania digital das nações é hoje uma ficção tão frágil quanto os cabos de fibra óptica que conectam seus continentes.
Quando uma falha em um servidor na Virgínia é capaz de interromper pagamentos no Brasil, chamadas no México e transmissões ao vivo na Europa, o que se revela é um sistema planetário refém da arquitetura informacional de uma única corporação. O nome desse poder é Amazon — e sua força não está apenas no comércio eletrônico ou na entrega de produtos, mas na capacidade de controlar o que flui, o que para e o que existe no espaço digital.
A pane global da AWS, portanto, não deve ser lida como um acidente isolado, mas como um evento-síntese de uma era de monopólios informacionais. A Amazon encarna hoje a versão mais avançada do imperialismo digital: um poder que se exerce não por meio da ocupação territorial, mas pela administração dos fluxos vitais da economia de dados. Não há exércitos, mas há servidores; não há tanques, mas há algoritmos; não há fronteiras, mas há firewalls. E, quando essa estrutura falha, o mundo inteiro percebe que está de joelhos diante de uma infraestrutura que não controla.
Da Falha Técnica à Dependência Estrutural
O colapso da Amazon Web Services não foi um simples acidente tecnológico, mas um retrato perfeito de uma dependência estrutural cuidadosamente construída ao longo das últimas duas décadas. A aparente falha em um subsistema de rede — tecnicamente restrita a uma região — produziu um efeito dominó que se espalhou por todos os continentes, atingindo economias, governos, mercados e milhões de pessoas. A fragilidade que o episódio revelou não é fruto do acaso: é consequência direta de um modelo de desenvolvimento tecnológico orientado pela concentração, pela financeirização e pela lógica do monopólio digital.
A arquitetura da nuvem corporativa global foi desenhada para maximizar eficiência e lucro, não para garantir soberania ou resiliência. Grandes provedores como Amazon, Microsoft e Google construíram ecossistemas fechados, verticalizados e interdependentes, nos quais cada camada de infraestrutura — dados, armazenamento, processamento, inteligência artificial — reforça o poder do núcleo corporativo. Trata-se de um sistema tecnicamente sofisticado, mas politicamente vulnerável, pois toda a sua complexidade converge para poucos centros de decisão, localizados fora do alcance das legislações nacionais.
Nesse sentido, o apagão da AWS deve ser entendido como um fenômeno estrutural, e não contingente. Ele expõe o risco de basear o funcionamento de sociedades inteiras em infraestruturas que não são públicas, nem reguladas, nem distribuídas. Em última instância, o incidente revela a contradição central do capitalismo digital: quanto mais interconectado o mundo se torna, mais dependente ele é de poucos atores privados. A interconexão, que deveria significar liberdade e descentralização, transformou-se em um mecanismo de sujeição técnica e econômica.
Para o Brasil e para os países do Sul Global, o problema é ainda mais grave. A dependência tecnológica se soma à histórica dependência financeira e política, criando uma camada adicional de subordinação — a dependência informacional. Hoje, boa parte da infraestrutura digital brasileira opera sobre bases controladas por corporações estrangeiras: servidores, algoritmos, sistemas de nuvem e até ferramentas de inteligência artificial utilizadas em universidades e órgãos públicos. Essa vulnerabilidade se manifesta não apenas na exposição a falhas, mas também na incapacidade de definir os próprios parâmetros de segurança, privacidade e soberania dos dados.
Cada queda de uma grande plataforma é um lembrete brutal de que não existe neutralidade tecnológica. A falha da AWS não interrompeu apenas serviços: interrompeu relações sociais, processos produtivos e fluxos simbólicos. Foi um colapso material e cognitivo ao mesmo tempo — um choque que expõe a precariedade de um sistema que confunde conectividade com autonomia.
O verdadeiro problema, portanto, não está na falha, mas na normalização da dependência. Em um mundo que aceita a centralização da infraestrutura como algo inevitável, as panes globais tornam-se apenas sintomas de uma doença mais profunda: a entrega do controle informacional a um oligopólio tecnocorporativo que dita as regras de funcionamento da civilização digital. O apagão da Amazon foi, nesse sentido, um clarão momentâneo sobre uma realidade cotidiana: a de que vivemos dentro de uma estrutura técnica e política que pertence a outros — e que, quando falha, simplesmente nos lembra quem realmente está no comando.
O Caso Brasileiro: Entre a Dependência e a Oportunidade
Nenhum outro país sintetiza tão bem as contradições da era digital quanto o Brasil. Potência tecnológica em potencial, com universidades de excelência, empresas inovadoras e um mercado digital gigantesco, o país vive, no entanto, sob uma estrutura de dependência tecnológica crônica. O apagão da Amazon de 20 de outubro expôs com clareza essa fragilidade. Em poucas horas, o cotidiano de milhões de brasileiros foi afetado por uma falha ocorrida a milhares de quilômetros, em data centers norte-americanos. Aplicativos de entrega, serviços financeiros, plataformas educacionais e até parte das comunicações institucionais apresentaram instabilidade. A vida digital do país, mais uma vez, mostrou-se atrelada à infraestrutura de uma corporação estrangeira.
Essa dependência não é apenas técnica, mas histórica. Desde a década de 1990, quando o Brasil ingressou tardiamente na revolução digital, as políticas públicas voltadas à tecnologia foram capturadas por agendas privatistas e por narrativas importadas que reduziram o Estado a mero consumidor de soluções externas. Em vez de consolidar uma infraestrutura nacional de dados e comunicação, o país terceirizou suas bases digitais, transformando-se em um mercado cativo para as grandes plataformas globais. Hoje, Amazon, Google e Microsoft dominam o fornecimento de serviços de nuvem para o setor público e privado, incluindo sistemas estratégicos de universidades, tribunais, bancos estatais e até órgãos de segurança.
A situação é particularmente delicada porque o Brasil não está apenas dependente em termos de infraestrutura, mas também em termos cognitivos e normativos. O modelo mental dominante no setor tecnológico ainda associa inovação à adesão a soluções estrangeiras, reproduzindo uma espécie de colonialismo digital de novo tipo — mais sutil, mas igualmente eficaz. Essa captura simbólica, que naturaliza a centralidade das big techs, impede o país de desenvolver uma visão autônoma de soberania informacional. É um processo de subordinação cultural, política e epistemológica, em que o Brasil se coloca permanentemente na posição de usuário, nunca de criador.
Entretanto, o apagão global de hoje também revela uma oportunidade histórica. Em meio ao caos, o país pode enxergar com nitidez o que está em jogo: a necessidade de reerguer uma infraestrutura nacional de dados, soberana e multipolar, capaz de dialogar com o mundo sem se subordinar a ele. Essa agenda, que já começa a ser discutida em fóruns dos BRICS, abre caminhos concretos para o Brasil participar de uma nova arquitetura global de tecnologia, baseada na cooperação Sul-Sul, na ciência aberta, no software livre e na valorização do conhecimento local.
Os exemplos já existem. A Infraestrutura Nacional de Dados, proposta pelo governo federal, e os debates sobre uma nuvem pública soberana apontam para uma tentativa de reverter décadas de dependência. Iniciativas como o fortalecimento do Serpro, da RNP e dos centros de supercomputação nacionais podem ser o embrião de uma política de autonomia informacional mais robusta, se forem tratadas como prioridade estratégica de Estado — e não como projetos isolados ou meramente administrativos.
O apagão da AWS é, portanto, um ponto de inflexão. Mostra que não há soberania política sem soberania tecnológica. Mostra também que o desenvolvimento não se mede apenas por PIB ou exportações, mas pela capacidade de um país controlar suas próprias infraestruturas críticas — os cabos, os servidores, os algoritmos, os dados e, sobretudo, as narrativas que definem quem detém o poder sobre tudo isso.
Se o século XX foi o século do petróleo, o século XXI será o século da informação. E, assim como o Brasil um dia precisou construir sua Petrobras para conquistar autonomia energética, talvez precise agora erguer sua “Petrobras dos dados” — uma empresa pública, aberta, transparente e soberana — para garantir que o futuro digital do país não dependa do humor dos servidores de uma corporação na Virgínia.
O Poder Invisível das Big Techs
O apagão da Amazon não foi apenas um episódio técnico de instabilidade: foi uma demonstração prática de poder — e, talvez, de impunidade. As big techs tornaram-se os novos soberanos de um mundo interconectado, governando pela infraestrutura, pelos algoritmos e pelas normas invisíveis do código. Elas não precisam de exércitos nem de tratados internacionais para exercer domínio; basta-lhes controlar o fluxo da informação, os canais de comunicação e as condições técnicas que definem o que existe, o que aparece e o que desaparece do campo da experiência social.
A Amazon é o exemplo mais evidente dessa metamorfose do poder. O que começou como uma livraria virtual tornou-se o núcleo logístico da globalização digital. Hoje, a empresa é simultaneamente varejista, produtora audiovisual, provedora de infraestrutura crítica, competidora de governos e hospedeira de seus próprios sistemas. A AWS, braço mais lucrativo do conglomerado, representa menos de 15% da receita da companhia, mas responde por mais de 70% do lucro operacional, sustentando financeiramente todo o império de Jeff Bezos. Essa assimetria revela o verdadeiro centro de gravidade da corporação: não é o comércio eletrônico, mas a posse e o controle da infraestrutura informacional global.
O poder das big techs é, antes de tudo, um poder infraestrutural. Ele não se impõe pela força visível, mas pela naturalização da dependência. As plataformas se tornam tão onipresentes que passam a ser percebidas como parte da natureza — e não como construções políticas. Essa invisibilidade é a essência de sua hegemonia. Quando tudo funciona, ninguém se pergunta “onde está a nuvem”. Mas basta uma falha, como a de hoje, para que a estrutura oculta se revele e o mundo perceba, atônito, que o espaço digital é governado por entidades que não prestam contas a nenhuma autoridade pública.
Além da dimensão técnica, há também a dimensão ideológica. As big techs cultivam a narrativa da neutralidade: apresentam-se como empresas “do futuro”, que apenas oferecem eficiência, inovação e conectividade. Na prática, agem como atores políticos globais, capazes de intervir em eleições, moldar comportamentos e redefinir as fronteiras do aceitável. Controlam as plataformas onde se formam as opiniões, armazenam os dados que alimentam a economia e operam as infraestruturas que sustentam os Estados. Em 2025, sua influência é tamanha que a linha entre o público e o privado, o econômico e o político, tornou-se indistinta.
Esse poder invisível, que se disfarça de conveniência, é o verdadeiro motor da dependência contemporânea. Ao entregar à Amazon, à Microsoft ou ao Google a hospedagem de seus sistemas, governos e instituições do mundo inteiro renunciam, em parte, à sua soberania. Cada contrato de nuvem, cada serviço terceirizado, cada integração de API é também um ato de transferência de poder. A soberania informacional, outrora concebida como direito de controle sobre o território e os fluxos de dados nacionais, torna-se uma abstração diante do império dos servidores privados.
O apagão global de hoje foi, portanto, mais do que um incidente: foi um lembrete de que vivemos sob um regime de poder tecnocorporativo que opera abaixo da superfície da política formal. As big techs substituíram o Leviatã do Estado moderno por uma nova forma de dominação, descentralizada, invisível e algoritmicamente mediada. E, enquanto essa estrutura permanecer fora do alcance da regulação democrática, a promessa da liberdade digital continuará sendo apenas uma ilusão cuidadosamente programada.
BRICS, Multipolaridade e o Caminho da Autonomia
Se o apagão da Amazon expôs o colapso da confiança na infraestrutura digital global, ele também reacendeu um debate que ganha força no cenário geopolítico contemporâneo: o da multipolaridade tecnológica. No mesmo momento em que os Estados Unidos concentram a infraestrutura física, lógica e informacional do planeta em suas big techs, os países do Sul Global — especialmente os BRICS — começam a articular estratégias de autonomia digital que visam romper a lógica unipolar da dependência. O colapso da AWS não foi apenas uma falha técnica; foi um aviso de que o mundo precisa diversificar seus centros de poder informacional antes que o monopólio da nuvem se converta em instrumento de coerção global.
Dentro do grupo dos BRICS, o tema da soberania tecnológica já não é periférico. China e Rússia investem pesadamente em data centers nacionais, sistemas operacionais próprios e redes de comunicação independentes. A Índia desenvolve uma infraestrutura híbrida, buscando equilibrar parcerias ocidentais com a construção de plataformas locais. A África do Sul e o Brasil, por sua vez, enfrentam o desafio adicional de romper o cerco cognitivo — a dependência cultural e técnica das soluções do Norte Global. Nesse contexto, o Brasil tem um papel estratégico: possui massa crítica científica, capacidade industrial e legitimidade diplomática para propor um modelo alternativo de governança digital multipolar, capaz de articular o Sul Global em torno de uma visão comum de soberania informacional.
Os BRICS já discutem há anos a criação de uma nuvem pública soberana, baseada em princípios de cooperação tecnológica, código aberto e hospedagem distribuída. O objetivo não é isolar-se do mundo, mas reconfigurar a interdependência de forma equilibrada, reduzindo vulnerabilidades e ampliando a autonomia. Projetos de integração digital entre universidades, bancos de dados científicos compartilhados e plataformas de IA regionalizadas começam a desenhar um esboço dessa nova arquitetura. A ideia é que a informação — principal ativo da era digital — não seja mais um recurso concentrado por poucos, mas um bem comum administrado coletivamente.
Para o Brasil, essa agenda representa uma oportunidade histórica. Ao lado de parceiros como China e Índia, o país pode impulsionar políticas de infraestrutura soberana — data centers públicos, cabos submarinos de controle nacional, satélites regionais e regulamentações que garantam que os dados brasileiros permaneçam sob jurisdição brasileira. Essa agenda é inseparável da luta pela soberania informacional, conceito que transcende a técnica e adentra o campo político: trata-se da capacidade de definir, coletivamente, os rumos do desenvolvimento digital sem subordinar-se aos interesses privados de potências estrangeiras.
A multipolaridade tecnológica é, portanto, mais do que uma estratégia: é uma necessidade civilizatória. Assim como a guerra fria do século XX se estruturou em torno da corrida nuclear, o século XXI se organiza em torno da corrida informacional. A diferença é que, agora, as armas não são bombas, mas algoritmos; e os territórios conquistados não são pedaços de terra, mas infraestruturas cognitivas e fluxos de dados. Se o Brasil deseja preservar sua autonomia política, econômica e cultural, precisa disputar esse território com urgência.
O apagão da AWS, ao paralisar a infraestrutura digital do planeta, simbolizou o esgotamento de um modelo. É o prenúncio de uma nova etapa histórica em que a luta pela soberania não se travará apenas nos parlamentos ou nas fronteiras físicas, mas nos cabos de fibra óptica, nos data centers e nos protocolos que definem o que o mundo vê, consome e pensa. O caminho da autonomia passa, necessariamente, por uma integração tecnológica multipolar, em que o conhecimento, os dados e as infraestruturas sejam compartilhados como patrimônio comum — não como mercadoria controlada por impérios corporativos.
Quando a Nuvem É o Novo Petróleo
O apagão global da Amazon Web Services é mais do que um incidente tecnológico: é uma metáfora do nosso tempo. No século XX, o petróleo movia o mundo e definia a geopolítica planetária. No século XXI, o equivalente ao petróleo são os dados — e a infraestrutura que os armazena, processa e distribui é o novo campo de batalha da soberania. Quem controla os dados controla os fluxos de valor, de informação e de poder. E é nesse ponto que a nuvem se revela como o novo território estratégico da humanidade.
A “nuvem”, palavra que sugere leveza, neutralidade e ubiquidade, é na verdade uma estrutura profundamente material, composta de cabos submarinos, satélites, servidores, sistemas de refrigeração, mineradoras de lítio e centros de energia. O mito da imaterialidade digital foi um dos maiores triunfos ideológicos das big techs: ocultar o concreto sob o virtual, o trabalho sob o código, o território sob a tela. O apagão da AWS devolveu à realidade essa materialidade esquecida. Ele mostrou que a nuvem tem dono, endereço, fronteira e jurisdição. E que sua instabilidade pode paralisar economias inteiras — inclusive aquelas que se imaginavam soberanas.
Assim como o petróleo no século passado, os dados são o recurso que estrutura o capitalismo contemporâneo. Mas, ao contrário do petróleo, eles não se esgotam ao serem usados; se multiplicam. Cada transação, cada mensagem, cada movimento no espaço digital alimenta o poder das corporações que concentram esse recurso. O controle da informação não é mais apenas econômico: é cognitivo e político. As big techs não apenas extraem dados; elas modelam o comportamento das sociedades, definem o que circula, o que se silencia e o que se transforma em verdade pública. A dependência informacional, portanto, é mais profunda do que a dependência energética jamais foi.
Para países como o Brasil, compreender essa nova economia dos fluxos é questão de sobrevivência estratégica. Não se trata de fetichizar a tecnologia, mas de entender que, no capitalismo de dados, a soberania informacional é a nova soberania nacional. Controlar a infraestrutura, as redes, os dados e os algoritmos é controlar o destino político e econômico do país. Ignorar essa disputa é aceitar, passivamente, a condição de colônia digital — produtora de dados brutos e consumidora de tecnologias estrangeiras.
O apagão da Amazon, portanto, deve ser lido como um aviso e uma oportunidade. Aviso, porque revela o risco de submeter o futuro de uma nação a sistemas que não domina. Oportunidade, porque reacende o debate sobre o que significa, de fato, ser soberano em um mundo de dependência tecnológica. A multipolaridade digital, as infraestruturas regionais e a governança cooperativa dos dados não são utopias, mas condições concretas para que o século XXI não repita o colonialismo do XX em nova forma — agora revestido de cabos de fibra e contratos de nuvem.
A “nuvem” é o novo petróleo, e os dados são o sangue do mundo contemporâneo. Mas, ao contrário do petróleo, não se trata apenas de explorar um recurso: trata-se de decidir quem terá o direito de existir dentro dele. Quando a nuvem cai, o que desaba não é apenas a internet — é o mito da neutralidade tecnológica e o véu que encobre a nova forma de dominação global. E é justamente nesse colapso momentâneo que se abre a chance de reconstruir um outro modelo, fundado não na dependência, mas na autonomia.
Porque a lição de 2025 é clara: a nuvem não é o céu — é território. E território é soberania
Artigo publicado originalmente em <código aberto>